|
MUNDURUCUS, OS GUERREIROS
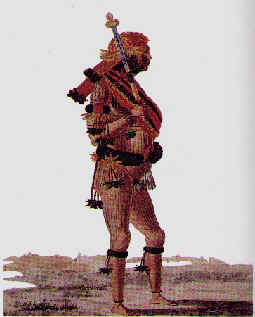

Chefe Mundurucu
em trajes cerimoniais.
Aquarela de Hercules Florence,
desenhista
da Expedição de Langsdorff,
1828.
No curso superior
do rio Tapajós, foram encontrados os Mundurucus,
descendentes mesclados dos tupis e considerados os
indígenas mais hábeis nos ornatos em penas.
Foram vistos, pela
primeira vez, andando completamente nus. Os homens
usavam um canudo de folhas que disfarçavam o sexo
e, as mulheres usavam um tecido de palha.
Raspavam a cabeça,
deixando no alto, um tufo de cabelos. A parte
raspada era pintada com uma tinta denominada
"será".
Durante as festas
ataviavam a cabeça com o "aquiri" que nada mais é
do que um casquete de penas com borlas de palha
que caem ao longo das faces. O "ichú", que era um
pequeno cesto enfeitado de penas, onde conduziam
animaizinhos vivos, era colocado a tiracolo.
Nas festas
guerreiras, as vestes eram bem mais pomposas.
Na cabeça era
colocado o "aquiiriaá", que é um "aquiri" com uma
pequena cauda, que cobria as costas. Atavam, na
cintura, um saiote com quatro caudas de arara que
chamavam de "tempe-á". Como um talabarte cingem o
"curarape", urdido com mimosas penas. Apertando o biceps, usavam o "bamam". Nos pulsos, uma
pulseira, o "ipé-á". Nas pernas, como jarreteiras, colocavam o "caniubiman" e, nos
tornozelos, umas ligas denominadas "caniubicric".
Costumavam fazer em
cada orelha três furos por onde introduziam
enfeites nos dias festivos.
Nas festas exibiam
o "iraré", o arco, o "putá", cetro e o "pariuá-á"
que nada mais era do que a cabeça mumificada de um
inimigo.

CABEÇAS MUMIFICADAS

Depois de um
combate, os Mundurucus cortavam as cabeças dos
inimigos. Enfiam uma vara flexível pela boca,
passando pelo pescoço, de modo a facilitar seu
transporte.
Em seguida
deslocavam-se até a praia e era aqui que os
Mundurucus se revelavam ótimos cirurgiões.
Começavam arrancando os dentes do infortunado
vencido, depois, extraindo-lhes os olhos e os
ossos, reviravam a cabeça pelo lado avesso. Com
uma faca de taquara cortavam e retiravam toda a
musculatura, embebendo o que sobrava em óleo de andiroba (carapa guianensis). Terminado este
trabalho, recompunham a cabeça, empalhando-a de
maneira que as feições do inimigo permanecessem
fiéis.
Depois da cabeça
completamente pronta, colocavam-na em um moquem a
fogo brando para secar. À medida que a cabeça se
contraía, o enchimento ia sendo retirado, até que
a contração fosse total.
Com uma agulha de
taquara costuravam os lábios da vítima, com tecido
tecido de algodão, deixando longos fios
dependurados, os quais eram matizados com o
urucum.
A cabeça era
atravessada, de baixo ao alto, por um longo
cordão, afim de poder ser pendurada às costas do
vencedor.
O "pariuá-á" era
guardado em fumeiro.
Os índios peruanos
mumificavam as cabeças dos inimigos, enchendo-as,
depois de desossadas com areia quente, pela
abertura do pescoço. Com pedras lisas e aquecidas
"passavam a ferro" a cabeça do inimigo. Para não
queimar as mãos, seguravam os seus "ferros de
engomar" com auxílio de folhas de palmeiras. Esta engomação durava cerca de 48 horas e só era dada
como terminada quando a pele ficava completamente
lisa e dura como couro; neste momento a cabeça
ficava reduzida ao tamanho de uma cidra.

A FESTA DA "PARIUATE-RAN"

A "pariuate-ran"
era uma cinta de algodão preparada pelo tuchaua (chefe-feitiçeiro,
xamã) e enfeitada com dentes extraídos das cabeças
do inimigo.
Era esta cinta uma
verdadeira condecoração com que o chefe da tribo
distinguia os guerreiros feridos ou as famílias
dos mortos representadas pelas viúvas respectivas.
Os agraciados com as cintas deixavam de trabalhar
para serem sustentados pela tribo.
Todos os guerreiros
que possuíssem a "pariuá-á" eram também
pensionistas da tribo, porém, só por cinco
anos, tempo que transcorria entre a batalha em que
o guerreiro adquiriu a cabeça e a festa da "pariuate-ran".
Antes da festa da
cinta, era realizada uma grande caçada, na qual
adquiriam as provisões para o dia marcado. Nesse
dia, toda a tribo se reunia para assistir o tuchaua confeccionar a cinta e enfeitá-la com os
dentes do inimigo, os quais eram limpos e furados,
para serem depois dependurados. Durante este
trabalho, todos os presentes permaneciam nus e
sentados, entoando hinos guerreiros.
Terminada a cinta,
todos se dirigiam à Casa dos Homens, denominada
pelos Mundurucus de "exçá", para vestirem seus
trajes de festa e se armarem.
Junto ao "exçá",
formavam-se alas de guerreiros, ficando em uma das
extremidades o tuchaua com as cintas. Os que iriam
ser agraciados deixavam o cabelo crescer e se
apresentavam em frente ao chefe, completamente
nus.
Enquanto o tuchaua
cingia a cinta no guerreiro, era tocado o "oufuá",
espécie de clarim de guerra.
Depois que todos os
"inem-nãtes" (feridos) fossem condecorados,
apresentavam-se três viúvas como representantes
das famílias enlutadas. Traziam como adorno um
colar de dentes do inimigo; a tiracolo, o "curuape"
de seu marido, e, em cada mão, um "putá".
Quando ecoa o som
medonho do "carucu", a festa terminava.
Formava-se então,
uma grande procissão, indo à frente as viúvas
agraciadas, que choravam de porta em porta, a
perda dos guerreiros da tribo. Enquanto isso, toda
a tribo cantava canções tristes e batia fortemente
os pés, produzindo um ruído que ao longe podia ser
ouvido.
Estes festejos se
iniciavam sempre ao cair da tarde e prolongavam-se
até o alvorecer. No dia seguinte, o tuchaua,
cortava o cabelo de todos os feridos.
A festa continuava
por tantas noites quantos fossem os feridos à
recompensar.

O povo de
Mundurucu teve uma participação importante na
guerra dos Cabanos entre 1832 e 1840. Essa foi uma
insurreição que tive sua origem nos conflitos
entre latifundiários poderosos, índios, e os
fazendeiros que lutaram contra o controle político
e econômico da elite portuguesa.
Os povos
indígenas foram aliciados em ambos os lados, com
os rebeldes e com as tropas do governo.
Em 1938, durante
a fase final da revolta, em "Mundurucânia" houve
um ataque maciço das forças portuguesas, onde os
índios Mawé, os Mundurucus e os Mura chacinados
perto do rio de Autaz.
Calcula-se que foram mortos mais de 30 mil índios.
Os que sobreviveram foram presos e escravizados.
JUSTIÇA... ANTES
TARDE DO QUE NUNCA!
No dia 27 de fevereiro de 2004,
foi publicado no Diário Oficial da União, o
decreto do Presidente da República que homologou a
terra indígena Mundurucu, de Jacareakanga (PA).
Uma área de 2.381.000 hectares de terra foram
entregues à 7.000 indígenas habitantes dessa
região.
Este gesto, pode ser considerado
o primeiro passo para um verdadeiro e sincero
"pedido de desculpas", pelas atrocidades cometidas
contra os povos indígenas desta terra.
Quando Cabral aqui chegou, no
atual Brasil viviam em torno de 900 povos nativos
com uma população de mais ou menos 5 milhões de
habitantes.
Com a colonização, iniciou-se o
sofrimento destes povos: muitos foram tornados
escravos e foram obrigados a trabalhar nos campos,
com o cultivo da cana de açúcar e café.
Os portugueses invasores
roubaram de nossos índios, seu espaço vital e
destruíram sua cultura. Expuseram-nos também a
infinidades de doenças, para as quais não possuíam
imunidade. Deste modo, o povo indígena foi
sofrendo uma redução drástica de sua população,
principalmente os que viviam ao longo do rio
Amazonas. No século XVIII, os Omagua e os Tapajós
já haviam deixado de existir. Somente poucos das
tribos de Mundurucu, Mawé e Mura tinham
sobrevivido.
Foi somente no final dos anos 60
(1960), que o estado brasileiro, tomou a
iniciativa para proteger os indígenas e começou a
punir quem os assassinava.
Hoje, nossos índios pouco se
diferenciam dos trabalhadores rurais, sendo que
eles ainda são muito discriminados.
As estatísticas não mentem e,
segundo dados oficiais, hoje vivem no Brasil 225
povos indígenas, perfazendo uma população de
551.210 pessoas.

Texto pesquisado e desenvolvido
por
ROSANE VOLPATTO
Dados Gerais:
(coletados do site http://www.sil.org/americas/brasil/)
Nome: Munduruku
Nomes alternativos: Mundurucu, Weidyenye,
Paiquize, Pari, Caras-Pretas
Classificação lingüística:
Tupi
População: 7.000 ou mais
Local: Pará, Amazonas. 22 aldeias

|